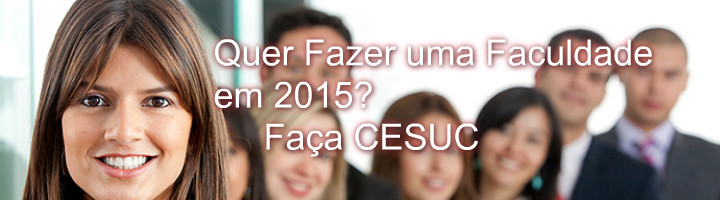FACULDADE CESUC
FUNDAMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Professor Mestre: Patrick Rodrigues Fleuri CabralProfessora especialista: Eva Cristiane de Assis Sampaio
Notas sobre os fundamentos comuns dos sistemas de políticas públicas:
Saúde, Educação e Habitação
Apresentação
A partir dos princípios da eficiência e da democracia, um novo modelo de administraçãopública vem se consolidando, hoje, no Brasil. As antigas estruturas burocráticas, segmentadase estanques, são reformadas e transformadas em um sistema de planejamento e de gestão, que alinhava novas relações entre Estado, sociedade e mercado, com forte presença do controle social sobre as deliberações públicas.
As políticas de saúde, de educação e de habitação servirão de referenciais para demonstração de que esse novo sistema apresenta uma estrutura que pressupõe alguns elementos constantes, quais sejam: marco regulatório, espaço de discussão pública, instâncias democráticas de deliberação, agência executiva e fontes de financiamento.
Introdução
Em 2005, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) divulgou o estudo “Radar social”, em que foi apontada uma evolução recente dos indicadores socioeconômicos do país, decorrente, em especial, de algumas inovações institucionais disseminadas a partir da Constituição Federal de 1988. Dentre elas, o IPEA destacou: 1) a consolidação da seguridade social enquanto um sistema integrado para os direitos de saúde, previdência e assistência social; 2) a criação e fortalecimento de colegiadosespecíficos para controle da sociedade civil sobre o governo; e 3) a criação de contribuições sociais e a vinculação de receitas às políticas públicas de saúde e de educação (IPEA, 2005:21).
Esses fatores demonstram que o modelo de administração pública, mais do que transitar do modelo burocrático aos novos arranjos gerenciais, começa a adotar os princípios daeficiência e da gestão democrática.
A eficiência tornou-se, por meio da Emenda Constitucional 19, um dos princípios estruturantes da administração pública, ao lado dos clássicos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Por consequência, Diogo de Figueiredo Moreira Neto avalia que novos paradigmas vem transformando a atuação do Estado, que, para obter legitimidade e aprovação social, precisa reformar sua administração para a obtenção de resultados – e não somente centrada no controle dos meios burocráticos. Assim, a eficiência da administração pública acaba sendo fundamento da legitimidade do Estado.
Em paralelo, a gestão democrática, como novo paradigma da administração publica, começa a ganhar densidade em oposição ao histórico de abusos e desvios do poder representativo. Se até então, a democracia representativa foi a prevalente, cada vez mais, pós-1988, novos arranjos de participação direta da sociedade civilforam construídos. Desse modo, desde os conselhos gestores de políticas públicas até mesmoos orçamentos participativos são experiências que inserem um componente democrático nas deliberações estatais, dando concretude à gestão democrática prevista no parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal, que diz: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.
A partir desses dois pilares – eficiência e democracia – um novo modelo de administração Pública vem se consolidando no Brasil. As antigas estruturas burocráticas, segmentadas e estanques, são reformadas e transformadas em um sistema de planejamento e de gestão, que alinhava novas relações entre Estado, sociedade e mercado, com forte presença do controle social sobre as deliberações públicas.
Esse novo sistema apresenta uma diversidade de vínculos e estruturas, contudo, pode-seobservar alguns elementos constantes que serão detalhadas neste artigo, quais sejam: marco regulatório, espaço de discussão pública, instâncias democráticas de deliberação, agência executiva e fontes de financiamento.
Para demonstrar a existência e os contornos gerais desse novo sistema de planejamento e de gestão, serão tomadas as seguintes políticas públicas: saúde, educação e habitação.
1. Marco regulatório
Marco regulatório é um conjunto de disposições normativas que organizam a administração pública, enquanto estrutura burocrática, para a execução de determinada política pública.
Assim, a expressão marco regulatório abarca a Constituição, as leis, os decretos, as portarias,as resoluções etc... que têm o mesmo objeto.
A Constituição Federal de 1988, como documento de maior relevância para o sistema jurídico, prescreve tanto os direitos fundamentais quanto as estruturas do Estado.
Para a satisfação das necessidades públicas, a Constituição elenca um conjunto de direitos fundamentais. De modo mais enfático, destacam-se os art. 5º e 6º – denominados direitos fundamentais individuais e coletivos – e os art. 193 a 232 – denominados em conjunto como “ordem social constitucional”, o que inclui regraspara seguridade social, educação, ciência, comunicação social, meio ambiente, família e indígenas.De outro lado, a mesma Constituição organiza o Estado sob a forma de federação, dividindo internamente o poder político entre as esferas da União, dos estados-membros e dos municípios. Cada um desses recebe um rol de competências para que, coordenadamente, contribuam para a satisfação das necessidades públicas, elencadas ou como direitos fundamentais ou como componentes da ordem social.Pelos art. 23 e 24, saúde, educação e habitação tornaram-se obrigação de todos os entes da federação, cabendo à União editar normas gerais, eaos estados-membros e municípios criarem as regras específicas considerando a realidade local.
– Saúde
A política pública de saúde recebe tratamento especial em decorrência do entendimento de que o direito à vida (CF, art. 5º, caput) é altamente dependente do acesso aos serviços de saúde. Por isso, os art. 196 a 199 inserem essa política em um conjunto mais amplo denominado seguridade social, ou seja, um sistema de direitos e de garantias contra os eventuais sinistros da vida.
Para tanto, o sistema de saúde estrutura-se a partir de algumas diretrizes específicas, dentre elas: a descentralização, o atendimento integral e universal, e a participação da comunidade – as quais são, respectivamente, manifestações do princípio de eficiência, da igualdade e da gestão democrática.
Em especial a Lei 8.142/90, ao dispor sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, delinea os fundamentos do sistema, quais sejam: instâncias colegiadas (Conferência de Saúde e Conselho de Saúde) e Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Ainda no plano infraconstitucional, a Lei 8080/90 e a Portaria MS 2203/1996 (NOB-SUS 01/96) são as bases normativas do sistema único de saúde. Além disso, em razão do modelo federativo, os estados-membros e os municípios podem, igualmente, criar normas específicas, observando, é claro, as regras gerais da União. E ainda de modo complementar, o marco regulatório da saúde é construído pelas resoluçõese portarias do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde e de seus congêneres estaduais e municipais.
– Educação
O direito à educação é um dos pilares para o desenvolvimento humano, bem como da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Desse modo, o art. 6º e os arts. 205 a 214 da Constituição Federal expressam o direito e organizam as estruturas estatais dessa política pública. Em especial, a igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade, valorização do trabalho, gestão democrática, qualidade, e piso salarial docente são os requisitos essenciais desse sistema. Expressamente, o art. 205 diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família.
Para detalhar e dar maior concretude, foi editada a Lei 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Nesse documento legal, em seus arts. 14, 15 e 16, estão estabelecidas as bases do sistema federal, estadual e municipal de educação, descrevendo os limites e competências de cada qual.
Importante, ainda, destacar outras leis que orientam a educação no Brasil, quais sejam, a Lei 10.172/2001, denominado Plano Nacional de Educação (PNE), um conjunto de metas a serem alcançadas por todos os entes da federação; e o Decreto 6.094/2007, Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que pretende a cooperação federativa em diversos campos da educação.
Mais recentemente, devem ser destacadas as normas que criaram importantes programas do governo federal: a Lei 10.861/2004, que criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES); a Lei 11.096/2005, que instituiu o Programa Universidade para todos (PROUNI); o Decreto 6.096/2007, que trata do Programa de Reestruturação das Universidades (REUNI); o Decreto 5.800/2006, da Universidade Aberta do Brasil (UAB) etc.
Tal qual o de saúde, o sistema de educação é regulado por normas editadas pelo Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação e pelas secretarias e conselhos estaduais e municipais dentro dos limites estabelecidos pela LDB.
– Habitação
Em que pese o direito à moradia ser um direito fundamental (CF, art. 6º) e a construção de moradias serem obrigação tanto da União quanto dos estados-membros e municípios (CF, art. 23, IX), a política de habitação acaba sendo secundária, quando não o é direcionada para que o mercado execute.
Contudo, a habitação tem seu marco regulatório composto por dispositivos da Política Urbana (CF, arts. 182 e 183), que foram regulamentados pela Lei 10.257/2001, Estatuto da Cidade, emais especificamente pela Lei 11.124/05, que institui o Sistema Nacional de Habitação deInteresse Social e seu respectivo fundo de financiamento.
São destaques na construção do sistema de habitação os planos diretores aprovados por milhares de municípios, durante a Campanha empreendida pelo Ministério das Cidades, nos anos de 2005 e 2006. Recentemente, foi finalizado o Plano Nacional de Habitação e criado o Programa Minha Casa Minha Vida (Lei 11.977/2009) – documentos que orientam a atuação a política de Estado para provisão de moradias.
Igualmente, estado-membros e municípios editam leis e executam programas de habitação no exercício de sua competência concorrente e comum, tanto por seus legislativos quanto por conselhos gestores e órgãos executivos.
Politica Habitacional
A política de habitação, inserida dentro da política urbana, foi contemplada recentemente em três conferências nacionais das cidades (2003, 2005e 2007), as quais foram resultados e ápice de outras milhares de conferências estaduais, regionais e municipais.
Os temas centrais das conferências foram “Cidade para Todos: construindo uma política democrática e integrada para as cidades” (2003); "Construindo uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano" (2005); “Desenvolvimento urbano com participação popular e justiça social: Avançando na gestão democrática dascidades” (2007). Em 2010, ocorrerá a 4ª Conferência Nacional das Cidades sob o tema: “Cidades para Todos e Todas com Gestão Democrática, Participativa e Controle Social: avanços, dificuldades e desafios na implementação da Política de Desenvolvimento Urbano”.
Como produto principal desses debates pode ser apontado o subsídio da política nacional de desenvolvimento urbano e do plano nacional de habitação, além, é claro, da eleição de membros do Conselho Nacional das Cidades.
*Resumo de diversos artigos
Organizações, comunicação e espaço midiático
Lino Geraldo Resende *
Com a globalização da economia e a midiatização promovida pela sociedade contemporânea, a comunicação foi ganhando cada vez maior importância. Hoje, é através dos meios de comunicação de massa que tomamos conhecimento do mundo e são estes meios que nos ajudam a construir nossa realidade, que é formada pela informação recebida e pelas percepções que temos relacionadas com o meio em que vivemos e com as crenças e valores que abraçamos. Forma-se, assim, no conceito de Dietram Scheufele, o nosso enquadramento (framing). Ou olhando-se do ponto de vista de Antonio Gramsci, forja-se, assim, a ideologia.
A comunicação perpassa todos os segmentos de nossas vidas e não é diferente em relação às organizações, até por estarem integradas nesse novo mundo, que alguns chamam de pós-moderno, e que Guy Debord classifica, de modo oportuno, como sociedade do espetáculo e afirma: “O espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade”.
Se, como afirma Debord, “a realidade surge no espetáculo e o espetáculo é real”os mídias, entendidos aqui como mídias noticiosos e de massa – rádio, televisão, jornais, Internet – têm um papel preponderante na montagem deste espetáculo e, como conseqüência, na representação que todos nós fazemos do mundo em que vivemos. Olhando esta questão da ótica do capitalismo tardio Frederic Jameson afirma que no pós-modernismo – a época em que estamos vivendo – “a própria “cultura” se tornou um produto”,3 o que soma ao conceito de Debord, que vê em tudo uma mercadoria, só que, agora, na forma de representação.
Vivendo neste mundo, onde a comunicação representa um importante papel é preciso que tenhamos, dela, senão uma visão específica, de quem a estuda, pelo menos uma visão geral. É preciso saber pelo menos como ela funciona e, em relação às organizações, qual é o papel que representa, olhem-se os processos internos, seu relacionamento com a sociedade ou vise-se à ocupação de espaços midiáticos, reforçando sua imagem e consolidando-a frente aos seus concorrentes.
O objetivo, aqui, é demonstrar a importância da comunicação para e nas organizações. Ao fazer isso, no entanto, não há como, em primeiro lugar, abordar as próprias organizações e, a partir de sua identificação e tipificação, situar os processos comunicacionais que ocorrem no seu interior e fora dela. Nesse sentido, podemos começar afirmando, com base em estudo feito por Margarida Kunsch após um extenso levantamento, que a existência das organizações se equiparam ao da própria humanidade e pode ser vista nas primeiras formas de associação feita pelos homens, como a família e a tribo.
O caminho da comunicação
Visualizado o campo onde nos situamos e, nele, do que estamos falando, podemos voltar à comunicação mostrando sua evolução e chegando à sua integração às organizações. “Talvez a história dos meios de comunicação do homem possa começar, ainda que impropriamente, com as mais antigas mensagens visíveis que chegaram até nós: as representações pictóricas do Paleolítico”, comenta Giovani Giovannin, ao traçar a evolução da comunicação, indo do sílex, usando por nossos ancestrais, ao silício, principal componente dos chips de computadores, que marcam a comunicação da pós-modernidade.
Havia comunicação, mas ainda não a fala. Com esta nova tecnologia, a comunicação se incrementou, ampliando-se e permitindo às pessoas que se expressassem de forma mais precisa, já que a comunicação corporal, gestual ou pictórica demandava uma interpretação mais precisa. Com a linguagem, as coisas ficaram mais fáceis e a comunicação se expandiu, mas permaneceu sobretudo oral, devido à dificuldade de reprodução de livros, o que era feito por copistas e destinados apenas a poucos privilegiados. Com Gutenberg e o desenvolvimento do tipo móvel, baseando-se em dispositivos inventados pelos chineses, a comunicação deu um novo salto.
Surgiram as tipografias, os primeiros livros e os primeiros jornais, que substituíram os jograis e os éditos dos governantes. A imprensa não só ampliou, novamente, o universo da comunicação, como lhe deu maior agilidade, iniciando a publicação de notícias, refletindo acontecimentos que o jornalista achava interessante reproduzir e dar conhecimento ao seu leitor. Começou, então, a nascer o jornalismo e seu aperfeiçoamento acabou contribuindo para a ampliação da mídia impressa e da própria comunicação.
O próximo passo na evolução foi o telégrafo. Com o seu surgimento, as notícias tornaram-se mais atuais e o que acontecia em outra cidade podia ser reportado. Aumentou, com isso, o volume de informação disponibilizado para o leitor e a comunicação deu um novo passo adiante. Logo depois, o rádio aliou-se ao telégrafo e levou ao público a notícia logo depois de tê-la recebido, não precisando de esperar pelo jornal, que só circularia no dia seguinte. A evolução continuou com a chegada da televisão, dos satélites e da Internet. Hoje, graças a esta evolução, a comunicação é instantânea. Tomamos conhecimento dela quase que em tempo real, via meios eletrônicos, e podemos presenciar acontecimentos das mais diversas partes do mundo. A comunicação foi mundializada. Chegamos, finalmente, como afirma Debord, à sociedade do espetáculo, suprida por uma sobrecarga de informações. O homem havia criado a sociedade global.
A influência da mídia
Com a ampliação da comunicação, começou também a discussão sobre sua influência. Ao longo dos últimos anos passou-se da influência total da mídia, configurada pela analogia com a seringa, em que se aplicava esta influência sobre as pessoas e elas reagiam de forma imediata, à nenhuma influência. Aos poucos, no entanto, pesquisadores foram discutindo outros caminhos, de acordo com História das Teorias da Comunicação, de Michele e Armand Mattelart, constatando que havia influência, mas parcial é certo, mas que não advinha, tanto, de quem emite a informação, mas de quem a consome. É nesta visão, construída a partir dos estudos culturais e reforçada na pesquisa feita nos Estados Unidos, que chegamos no pós-moderno.
Os pesquisadores contemporâneos são unânimes em reconhecer que a mídia – os meios de comunicação de massa – exerce influência; não concordam, contudo, no tamanho desta influência. O que a moderna investigação em comunicação procura mostrar é como uma informação se torna notícia e é difundida e, a partir daí, as conseqüências que ela gera vistas, sobretudo, do ponto de vista de quem a recebe e a consome. Este é, no nosso entender, o campo que une organizações e comunicação e como a segunda se insere nas primeiras, tirando proveito interno e externo do espaço midiatizado, dentro do conceito de Dominique Wolton.6
A comunicação, no entendimento de Margarida Kunsch, é essencial para as organizações. Ela liga setores, forja cultura, disseminam objetivos, promove a integração e ainda cuida de estabelecer, difundir e manter uma imagem pública, reforçando a inserção de uma determinada organização no seu espaço, seja ele econômico ou não.
Mas o que é comunicação? Comunicar, tomando-se a etimologia da palavra, é por em ação, tornar comum. E é exatamente isso o que toda comunicação faz: torna comum uma determinada informação, buscando um determinado resultado. No plano interno, pode ser dar conhecimento de uma diretriz aos empregados. No externo, comunicar ao cliente – e ao público – o lançamento de um novo produto. Nos dois casos, a comunicação – através de uma de suas várias manifestações – é que está em uso.
Com a expansão das organizações e o aumento de sua complexidade, a comunicação teve, obrigatoriamente, de acompanhar este crescimento e complexidade. Assim, dentro do campo da comunicação – que abrange o todo – surgiu um gênero, o da comunicação organizacional, dedicado inteiramente aos processos e procedimentos relativos à comunicação intra e extra organização. É esta comunicação específica que está integrada às organizações e que para ela é vital, no entendimento de Margarida Kunsch.
A complexidade das organizações e da própria comunicação empresarial levou à criação de um novo conceito na sua área, que os teóricos chamam de comunicação integrada, por reunir sob um mesmo guarda-chuva, várias ações comunicacionais: interna, administrativa, institucional e mercadológica.
A comunicação administrativa permite viabilizar todo o sistema organizacional e está baseada em fluxo e redes. A interna tem como principal função promover a integração entre empresa e empregado e, para tal, usa a comunicação institucional e o marketing interno ou endomarketing. A comunicação mercadológica volta-se para, conforme especifica o seu próprio nome, para o mercado e, nesse relacionamento, se vale de instrumentos como a publicidade, propaganda, marketing, relações públicas e jornalismo empresarial.
A comunicação institucional “é a responsável direta pela construção e formação de uma imagem e identidade corporativas fortes e positivas de uma organização”.7 Esta comunicação se faz com o uso de dois instrumentos, a Relações Públicas e o Jornalismo Empresarial e é para último que vamos nos voltar, por algumas razões que serão expostas a seguir.
O jornalismo empresarial, um gênero do campo jornalístico, pode ser visto como uma técnica específica voltada para a comunicação nas organizações e delas com o público, através da utilização dos meios de comunicação de massa.
Internamente, agindo sozinho ou em cooperação com a área de relações públicas, o jornalismo empresarial torna efetiva a comunicação da empresa e, para tal, usa de meios orais, escritos, pictóricos e audiovisuais, buscando, sempre, o objetivo de tornar claros os objetivos empresariais e contribuindo para a disseminação de uma cultura que integre a organização, fazendo com que esta integração reflita a nível externo em melhoria de imagem.
O maior trabalho do jornalismo empresarial, no entanto, se dá voltado para fora e há para isso uma explicação: Em um espaço público midiatizado, onde o poder é simbólico, as organizações precisam usar este espaço para tornar visíveis suas ações, ao mesmo tempo em que as referenda mediante a autoridade da fala da mídia. Esta ação é mais importante no campo econômico, sobretudo em mercados de forte concorrência, marcados pelo liberalismo econômico. Nestes mercados, é essencial que organizações e profissionais saibam como a mídia funciona, a influência que exerce e os mecanismos que usa para transformar um acontecimento em notícia. É neste sentido que, muito mais do que discutir técnicas, é preciso estar atento ao contexto dos meios de comunicação de massa, saber por onde eles caminham e ver, nestes caminhos, a forma de inserção das organizações. Por isso, é importante discutir, no âmbito das organizações e da comunicação organizacional, a influência e o poder da mídia.
O caminho do entendimento de como a mídia influencia, pode se dar em três níveis. Antes, porém, uma consideração: a partir de agora, sempre que nos referirmos à mídia, estaremos falando da mídia noticiosa – rádio, jornal, televisão, Internet – já que toda a discussão sobre esta influência passa pelo noticiário e é ele, e como se constitui, o objeto da maioria dos estudos.
Retomando a discussão da influência, no primeiro nível está a Teoria do Agendamento, capaz de demonstrar que a mídia influi. No segundo, usando o ferramental do newsmaking, podemos mostrar como promover a informação, de forma a que se transforme em notícia. E no terceiro, mediante o uso do enquadramento, explicar como o jornalista enquadra uma informação, o acontecimento e, a partir de técnicas e valores, o transforma em notícia.
O que devemos pensar
Entre os teóricos da comunicação parece pacificado o fato de os mídias jornalísticos influírem na opinião pública. O que se discute – e não há, neste caso, consenso – é o grau de influência por eles exercidos. Olhando-se em perspectiva as várias teorias de comunicação, vemos que há defensores de uma influência total, chegando à imposição do silêncio, na vertente defendida por Noelle-Newman,9 e desembocando no reconhecimento de que há influência, no caso da Teoria do Agendamento.
Como observa Traquina, as Teorias do Jornalismo passaram, ao longo dos anos, por uma evolução, algumas sendo formuladas, estudadas e descartadas. Neste percurso histórico, pode-se alinhar a Teoria do Espelho, que afirmava ser a notícia um reflexo da realidade, passando pela Teoria Hipodérmica, que via os mídias como exercendo influência absoluta sobre o indivíduo.
Hoje, até pela característica do campo jornalístico, que faz parte de um mercado de idéias existem várias vertentes de discussão. Uma das que tem feito maior sucesso e obtido maior permanência é a Teoria do Agendamento, desenvolvida a partir de um trabalho feito em 1972 por McCombs e Shaw envolvendo a eleição presidencial nos Estados Unidos. O que eles constataram é que a agenda da mídia influía na agenda pública e, como conseqüência, na posição do eleitor.
“As pessoas agendam seus assuntos e suas conversas em função do que a mídia veicula”, afirma Clóvis de Barros Filho (1995) ao iniciar sua explicação do que é a Teoria do Agendamento. “A mídia, ao nos impor um menu seletivo de informações como sendo “o que aconteceu”, impede que outros temas sejam conhecidos e, portanto, comentados. Ao decretar seu desconhecimento pela sociedade, condena-os à inexistência social”.
Essa idéia, de que a mídia influi no que falar e no que discutir, não é nova. Como lembram Traquina e Barros Filho, ela é muito anterior à sua formulação. Um dos que avançaram a hipótese de haver influência foi Walter Lipman, que destacava no seu “Opinião Pública”, o papel da imprensa no enquadramento da atenção dos leitores em direção a temas por ela impostos.
Praticamente na mesma época de Lipmann, Robert Ezra Park, em sua obra The City, destacava a prerrogativa que tinham os meios de comunicação de definir certas ordens de preferência temáticas. Esta mesma questão foi posta, mais tarde, já na década de 60 por Gladys e Kurt Lang, que denunciavam a hierarquização temática dos meios de comunicação.
Se há concordância que a idéia não é nova, também concordam os teóricos que os responsáveis pela formulação da Teoria do Agendamento foram, mesmo, McCombs e Shaw. O que houve, em relação aos precursores da idéia, na abordagem de Barros Filho, é que eles não despertaram nenhum interesse científico. A partir da constatação de McCombs e Shaw, no entanto, houve uma mudança e a Teoria do Agendamento passou a dominar as pesquisas em comunicação. Um levantamento feito pelos autores, para um artigo dos 25 anos do surgimento da teoria, aponta mais de 200 diferentes estudos sobre o tema, só nos Estados Unidos.
A prevalência desta vertente teórica, reconhecida pelos teóricos, leva Nélson Traquina a defender que se faça uma distinção entre os mídias e os mídias noticiosos. A teoria do agendamento não trata, na verdade, de todos os mídias, mas somente dos mídias noticiosos e é assim que o conceito é operacionalizado. Na verdade, o estudo se volta para a produção jornalística e não no conteúdo de toda a programação midiática. “Assim, a agenda midiática dos estudos do agendamento é, de facto, a agenda dos “mídias noticiosos”, ou seja, a agenda do campo jornalístico (ou, como preferimos, a agenda jornalística), entendendo-se a expressão campo jornalístico como o conjunto de relações entre agentes especializados na elaboração de um produto específico, conhecido como notícias, ou, simplesmente, informação”.13
Sob esta ótica o que a Teoria do Agendamento procura explicar é a influência das notícias, procurando entender não só como elas influem, mas como são constituídas, como são apropriadas pela mídia, que características nelas são dominante e o porquê de serem como são. O que ocorre, então, é que “o campo jornalístico constitui alvo prioritário da acção estratégica dos diversos agentes sociais”.
É neste aspecto que voltamos, mais uma vez, a McCombs e Shaw para, com eles, reconhecer que, dentro dessa nova perspectiva assumida pela Teoria do Agendamento, com várias novas vertentes sendo exploradas, com destaque para os mecanismos de transformação da informação em notícia, podemos afirmar que “o agendamento é bastante mais do que a clássica asserção de que as notícias nos dizem sobre o que é que devemos pensar. As notícias dizem-nos também como devemos pensar sobre o que pensamos.”
Conclusão
O que se evidencia, do que aqui foi dito, é que, do lado das organizações, houve um aumento da complexidade, exigindo novas posturas e novas especializações e foi neste sentido que também caminhou a comunicação. Neste caminho, ela se especializou, nascendo a comunicação organizacional responsável pela comunicação nas organizações. Dela, acabou derivando um outro gênero, que é o jornalismo empresarial, responsável pelas comunicações internas e externas de uma organização, sobretudo do seu relacionamento com a mídia, isto é, com o espaço público, que está midiatizado e onde a presença das organizações é essencial.
No percurso que vai do nascimento da organização à utilização da mídia, pudemos discutir, em linhas gerais, a evolução da própria comunicação e mostrar, também em linhas gerais e valendo-se da Teoria do Agendamento – que é um guarda chuva para vários estudos – como esta influência se dá e como as organizações dela se valem para se inserir nos mídias noticiosos, tornando públicas suas ações, reforçando sua imagem e contrapondo-se a seus concorrentes.
Mais adiante, prova-se, com números, que o trabalho desenvolvido no âmbito do jornalismo empresarial é eficiente e eficaz e que pode ser usado em favor da empresa, o que não significa que esteja sendo usado contra a mídia. Não. Há, na verdade, uma convergência de interesse, mediada por profissionais que, embora atuando em campos diferentes, têm a mesma formação e se auto-identificam como jornalistas.
Por fim, e juntando-se tudo o que foi dito, fica evidente a importância da comunicação na vida das organizações, até ao ponto de uma das maiores estudiosas do assunto no Brasil, a professora Margarida Maria Krohling Kunsch, afirmar que ela é vital, concluindo que o uso da comunicação pode levar ao sucesso ou condenar uma organização ao fracasso.
Fonte : https://www.saladeprensa.org/art659.htm
CONCEITUANDO : LIBERALISMO X NEOLIBERALISMO
LIBERALISMO X NEOLIBERALISMO
De acordo com o dicionário, Neoliberalismo é uma palavra pronunciada apenas pelas pessoas que discordam de um Ideal Liberal.
Entretanto, a história conta que o termo “NEO” é usado sem propriedade correta quando tenta distinguir Liberalismo X Neoliberalismo, como novo ideal.
LIBERALISMO CLÁSSICO
É um ideal político que defende a maximização da liberdade individual, mediante do exercício do direito e da lei. Ele defende tão somente uma sociedade que se caracteriza pela livre iniciativa integrada num contexto totalmente definido. Esse contexto inclui livre concorrência econômica, liberdade de expressão, cumprimento das leis e logicamente um governo democrático.
LIBERALISMO ECONÔMICO
O Liberalismo econômico leva ao estigma da total autonomia da economia, que não pode sofrer nenhuma autonomia do Estado. Em 1929, essa autonomia foi quebrada com a crise ficando então provado que a crise poderia ser: autonomia em virtude de mega fusões e monopólios, formando holdings, cartéis e etc. O Neoliberalismo Econômico foi implantado a partir daí, auxiliando o fim da crise, sendo chamado de NEAL DEAL.
LIBERALISMO SOCIAL
O Liberalismo Social, ou novo liberalismo, desenvolvido no início do século XX, que vê a liberdade individual como o principal objetivo.
Em decorrência disso, os liberais sociais são os mais fiéis defensores do direito civil e humano.
O vocábulo social é usado nesta versão de liberalismo com duplo sentido:
1. Como forma de frisar os ideais progressistas a defesa da liberdade individual e em oposição aos ideais defendidos pelos partidos conservadores.
2. Como maneira de diferenciar grupos que defendem o libertarianismo, neoliberalismo liberalismo clássico. Concluindo, liberalismo social é uma filosofia.
NEOLIBERALISMO
Foi utilizado em épocas distintas com dois significados semelhantes: na
primeira metade do século XIX significou a doutrina proposta por economistas de
alguns países, como Estados Unidos, Alemanha, e França voltada para adaptação
dos princípios do liberalismo clássico as exigências de um Estado regulador e
assistencialista.
Mas, a partir da década de 70, teve um novo significado passando a defender a
absoluta liberdade de mercado.
Com o livro “Teoria Geral do Emprego” Juros e Moedas, escrito por John
M. Keynes, economistas renomados se “renderam” ao descrito por Keynes, passando
a ser chamado tal momento de Revolução
Keynesiana.
Nesse livro, Keynes defende que o
ciclo econômico não é auto regulador, e sua teoria se baseia no princípio de
que os consumidores alocam as proporções de seus gastos e bens e poupança, em
função de sua renda, maior a porcentagem da renda poupada.
Segundo Keynes, a
mais importante agenda do Estado é fazer coisas que as pessoas já fazem
normalmente, ou um pouco pior, ou um pouco
melhor.
Keynes, nunca defendeu a estatização da economia, o que ele defendia na década
de 30 é que hoje STIGLITZ e os novos desenvolvimentistas defendem é uma
participação ativa do Estado na economia do país.
Conceito
de Políticas Públicas e Atores Sociais
Durante os séculos XVIII e XIX, as principais funções do Estado eram a segurança pública e a defesa em caso de embate externo. Contudo, com a expansão da democracia, houve muitas mudanças com relação às responsabilidades do Estado perante a sociedade. Atualmente, pode-se dizer que a sua principal função é proporcionar o bem-estar à mesma.
Para tal, o Estado necessita desenvolver diversas ações e atuar em diferentes campos, como educação, saúde, segurança, meios de transporte público, meio ambiente etc. Para alcançar frutos em tais áreas, o governo se utiliza das Políticas Públicas.
Conceito de Políticas Públicas
As Políticas Públicas são um conjunto de decisões, planos, metas e ações governamentais (seja a nível nacional, estadual ou municipal) voltados para a resolução de problemas de interesse público – que podem ser específicos, como a construção de uma ponte ou gerais, como melhores condições na saúde pública.
Através de grupos organizados a sociedade faz seu apelo aos seus representantes - vereadores, deputados e senadores, membros do poder legislativo, e estes mobilizam os componentes do poder executivos - prefeitos, governadores e até mesmo o Presidente da República, para que atendam as solicitações da população.
É importante ressaltar que a existência dos grupos organizados e suas reivindicações não são garantia de que suas expectativas serão atendidas, pois no processo das Políticas Públicas, é realizada uma seleção de prioridades que visa responder as demandas das áreas mais vulneráveis da sociedade, o que certamente não abrangerá todas as questões. É preciso que tais reivindicações ganhem força através de mobilizações sociais e chamem a atenção das autoridades.
Políticas Públicas e os Atores Sociais
São chamados de atores políticos ou atores sociais os membros dos grupos que integram o sistema político. Em todo o procedimento das políticas públicas, desde o questionamento até a execução, há basicamente dois tipos de atores: os estatais ou públicos – provenientes do Governo ou do Estado, aqueles que exercem funções públicas e mobilizam os recursos associados a estas funções, ou seja, os políticos, eleitos pela população para um determinado período, e os servidores públicos, que atuam no segmento burocrático; e os privados – provenientes da sociedade civil, compostos por sindicatos dos trabalhadores, empresários, grupos de pressão, centros de pesquisa, imprensa, associações da Sociedade Civil Organizada (SCO), entre outras entidades.
Os políticos são escolhidos pela sociedade com base em suas concepções e propostas durante o período eleitoral e, quando eleitos, buscam executá-las. Os servidores públicos, componentes da burocracia, controlam recursos e informação e operam no processo de efetivação das políticas públicas definidas. A princípio, a burocracia é neutra, mas por muitas vezes este princípio é corrompido por interesses pessoais, o que implica na cooperação ou impedimento das ações governamentais. Além disso, os burocratas também possuem projetos políticos, sejam eles pessoais ou organizacionais; por isso é comum ver disputas não somente entre políticos e burocratas, mas também entre burocratas de diversos setores governamentais.
Já os atores privados são aqueles que não possuem vínculo direto com a administração do Estado. Dentre os principais grupos, tem-se:
Trabalhadores
A força deste grupo resulta da ação organizada, pois atuam através de seus sindicatos, que geralmente são ligados a partidos, ONGs e, às vezes, até mesmo igrejas. Dependendo da importância do setor no qual atuam, podem ter um maior poder de pressão;
Empresários
Este grupo exerce uma enorme capacidade de influir nas políticas públicas, visto que podem afetar a economia do país. Os empresários mobilizam seus lobbies (do termo lobby, que significa a atividade de pressão que tem como objetivo inferir diretamente nas decisões do poder público em favor de interesses privados) para encaminhar suas demandas aos atores públicos. Podem se manifestar como atores isolados ou coletivos;
Grupos de interesse e grupos de pressão
Os grupos de interesse são formados por pessoas que compartilham o mesmo desejo e trabalham para conquistar seus objetivos. Já os grupos de pressão são formados por pessoas que possuem o objetivo de influenciar determinada decisão de caráter público. Muitas vezes, esse tipo de pressão acontece de forma direcionada ao Legislativo, porém, pode incidir também sobre os meios de comunicação, o Judiciário e o Executivo. Também é comum tais grupos apoiarem determinados partidos políticos e alguns possuem recursos financeiros e organizacionais;
Organizações de Pesquisa
Podem ser formadas por universidades ou organizações especializadas em pesquisas relacionadas às políticas públicas. Com essas pesquisas, eles propõem soluções práticas para problemas sociais e assim, influenciam no processo de políticas públicas;
Mídia
A mídia possui grande influência quando o assunto é a definição de impasses relacionados ao governo. São formadores de opinião que possuem credibilidade na sociedade e por isso são capazes de mobilizar um grande número de pessoas. Além disso, possuem certo domínio sobre as políticas públicas.
Portanto, as políticas públicas envolvem um processo complexo, constituído por um fluxo de decisões e ações praticadas por diversos indivíduos e órgãos, que acarretará diretamente no equilíbrio - ou desequilíbrio, social.
O Ciclo das Políticas Públicas apresenta vários estágios:
Agenda, em que são selecionadas as prioridades;
Formulação, em que são apresentadas soluções ou alternativas;
Implementação, em que são executadas as políticas;
Avaliação, em que ocorre a análise das ações tomadas.
Na teoria, são estas as fases que correspondem às Políticas Públicas, mas na prática, tais etapas se misturam entre si e nem sempre seguem a sequência proposta, sendo tal segmentação mais significativa para uma melhor compreensão do assunto.
Formação de Agenda
Dada a impossibilidade de que todos os problemas existentes na sociedade sejam atendidos, pois os recursos necessários para tal ação são escassos em relação à quantidade de problemas, a primeira fase correspondente à formação de agenda é necessária para que sejam estipuladas as questões a serem discutidas pelo governo. Portanto, este processo de se estabelecer uma listagem dos principais problemas da sociedade envolve a emergência, o reconhecimento e a definição dos problemas em questão e, consequentemente, os que não serão atendidos.
O que vai determinar a inserção ou não inserção de um problema público em uma agenda? Dentre uma série de fatores, pode-se citar por exemplo, a existência de indicadores ou dados, que mostram as condições de uma determinada situação; e o resultado obtido com ações governamentais anteriores que apresentaram falhas nas providências adotadas. Os desdobramentos políticos (como por exemplo, as mudanças de governo) também são poderosos formadores de agenda, pois isso está relacionado à visão dos políticos eleitos sobre os temas que devem ou não receber prioridade.
Cabe ressaltar que, mesmo que uma questão seja listada na Agenda, isso não significa que terá prioridade em relação às outras, pois tal prioridade ocorre com a junção de diversos fatores, como a própria vontade política, uma forte mobilização social e a avaliação de custos para a resolução do problema em questão.
Formulação de Políticas Públicas
A partir do momento em que os problemas são inseridos na agenda, é preciso planejar e organizar as alternativas que serão colocadas em prática para a solução dos mesmos. É o instante em que se deve definir o objetivos das políticas públicas, as ações que serão desenvolvidas e suas metas. Sendo assim, muitas propostas de ação são descartadas, o que provoca embates políticos, visto que determinados grupos teriam tais ações – que foram deixadas de lado, favoráveis a eles.
Pode-se definir como necessários a uma boa formulação de políticas os seguintes passos: a transformação de estatísticas em dados importantes para a solução dos problemas; identificação dos principais atores envolvidos e a avaliação das preferências dos mesmos; e ação com base nas informações adquiridas.
A avaliação das alternativas deve acontecer de forma objetiva, levando-se em conta algumas questões, como viabilidade financeira, legal e política, e também os riscos trazidos pelas alternativas em estudo. Desta forma, opta-se por aquelas que seriam mais convenientes para o cumprimento do objetivo.
Implementação de Políticas Públicas
É na implementação que os planos e escolhas são convertidos em ações, resultados. Durante este período, as políticas podem sofrer diversas transformações dependendo da posição do corpo administrativo, que é o responsável pela execução da política.
Nesta fase, alguns elementos podem prejudicar o processo das políticas, como por exemplo: disputa pelo poder entre organizações; contexto social, econômico e tecnológico das políticas; recursos políticos e econômicos; treinamento do setor administrativo responsável pela execução e o apoio político à disposição. Embora seja mostrada uma carência de recursos frente às necessidades públicas, por muitas vezes, os programas governamentais são falhos, havendo mais deficiência na gestão do que falta de recursos propriamente dita. Dentre as disputas entre organizações, é interessante dizer que, quanto maior o número de organizações estiverem envolvidas no processo de implementação das políticas – dependendo do nível de colaboração entre elas, maior será o número de ordens a serem resolvidas, o que demanda maior tempo para a realização das tarefas.
Há dois modelos de implementação das Políticas Públicas: o de Cima para Baixo (modelo centralizado, aplicação do governo para a sociedade) e o de Baixo para Cima (modelo descentralizado, aplicação da sociedade para o governo). No modelo de Cima para Baixo, poucos funcionários participam das decisões e formas de implementação. Trata-se de uma concepção hierárquica da administração pública, sendo tais decisões cumpridas sem indagações. No modelo de Baixo para Cima, os favorecidos pelas políticas, atores públicos e privados, são chamados para participar do processo.
Para o desenvolvimento de um bom processo de implementação, é necessário que, dentre outros fatores: o programa disponha de recursos suficientes; a política implementada tenha um embasamento teórico adequado em relação ao problema e a sua solução; haja uma só agência implementadora ou baixo nível de dependência entre elas; exista completa compreensão dos objetivos a serem atingidos, bem como das tarefas a serem realizadas; e ocorra aprimorada comunicação entre os elementos envolvidos no programa.
Avaliação de Políticas Públicas
Na avaliação ocorre o processo de coleta de dados e análise do programa adotado, o que permite a percepção dos erros e pode levar ao aperfeiçoamento posteriormente. Portanto, esta fase: analisa os impactos, a eficiência, eficácia e sustentabilidade das ações desenvolvidas; possibilita a correção, prevenção de erros e a criação de novas informações para futuras políticas públicas; permite que a administração faça a devida prestação de contas das atitudes tomadas; responde se os resultados produzidos estão se saindo da maneira esperada e identifica os obstáculos que dificultam o desenvolvimento do processo; além de fomentar a comunicação e a cooperação entre os diversos atores.
Para se averiguar uma ação, a Avaliação deve responder se os resultados ocorreram em tempo viável, se os custos para a produção foram adequados e se o produto corresponde aos objetivos da política, sendo estes requisitos relacionados à eficácia e eficiência do desenvolvimento. Quanto ao impacto, deve-se analisar a relevância de tais modificações, as áreas afetadas e a cooperação dos componentes políticos na obtenção de seus objetivos. Em relação à sustentabilidade, uma política deve manter seus efeitos positivos após o fim das ações governamentais direcionadas a tal política.
Em relação aos responsáveis pela avaliação, pode-se dividir de duas formas: avaliação interna – feita pelos responsáveis pela gestão do programa, e avaliação externa – feita por especialistas não participantes do programa. A avaliação interna é vantajosa no sentido de que, por estarem incorporados ao programa, além de um maior conhecimento sobre tal, terão também acesso mais facilitado às informações de que precisam. Já a avaliação externa conta com uma importante imparcialidade, o que gera uma maior credibilidade em relação ao público externo, mas tem como desvantagem um gasto maior de tempo – e dinheiro, até que se habituem ao objeto de estudo.
O fato de a Avaliação ser colocada como a última fase, não quer dizer que ela deve ser utilizada apenas no fim da atuação política. A avaliação pode/deve ser feita em todo o processo de Políticas Públicas, contribuindo para um bom desenvolvimento das ações minimizando as chances de insucesso.
Burocracia no Processo de Formulação e Implementação
Uma das definições de burocracia, é que trata-se de um grupo ou organização que, hierarquicamente, trabalha de maneira usual, costumeira; entretanto, não pode ser vista como uma simples realizadora que está indiferente às resoluções políticas, pois é composta por membros que possuem seus próprios interesses e que os mesmos fogem à neutralidade.
A burocracia possui um domínio da informação sobre o que ocorre nas ações públicas, tem uma fácil acessibilidade por meio de contatos e consequente influência na estrutura administrativa (principalmente no processo de implementação), além de estar disposta de uma forma permanente na organização da formulação e implementação das políticas públicas. Tais recursos proporcionam à burocracia um papel de maior destaque do que é previsto nas avaliações tradicionais.
Modelos de Tomada de Decisão
Existem diversas maneiras de se considerar soluções em resposta aos problemas públicos. Destacam-se os modelos: Racional (H. Simon), Incremental (Lindblom), Análise misturada (Etzioni) e Irracional (Cohen, March e Olsen).
Modelo Racional
Este modelo baseia-se no pensamento de que a racionalidade é imprescindível para a tomada de decisão. Considera as informações perfeitas, as trata com objetividade e lógica e não considera as relações de poder. No modelo racional, primeiro se estabelece um objetivo para solucionar o problema, depois se explora e define as estratégias para alcançar o objetivo, estimando-se as probabilidades para tal, e por fim, a estratégia que parecer cabível é escolhida.
Modelo Incremental
O modo incremental situa-se na abordagem de racionalidade limitada, retratando as impossibilidades do racionalismo e praticando o foco nas informações. É um modelo descritivo, reconhece que a seleção de objetivos depende dos valores e a implementação estará sujeita a intervenções, visto que cada ator envolvido tem sua própria percepção do problema. Este modelo considera que, por mais apropriado seja o fundamento de uma alternativa, a decisão envolverá relações de poder. Desta forma, a decisão mais conveniente é formada a partir de um consenso e objetiva garantir o acordo entre as partes interessadas.
Modelo da Análise Misturada (mixed-scanning)
Este modelo combina características dos dois modelos anteriores. Dispõe uma racionalidade bidimensional e prevê dois níveis de decisão: fundamentais, estratégicas e racionais em relação às decisões a seguir; e incremental, que consiste em uma comparação das opções selecionadas de forma racional. Esta análise permite mais inovação do que o modo incremental, sem precisar impor o processo radical do modo racional.
Modelo Irracional (lata de lixo)
Este modelo trata do processo de decisão em ambientes e objetivos ambíguos, que podem ser chamados de “anarquias organizadas” e subverte a lógica solução-problema para problema-solução. Para os que defendem esta ideia, o processo de tomada de decisão é extremamente dúbio, imprevisível, e pouco se relaciona com a busca de meios para se alcançar os fins. Trata-se de uma abordagem aberta, em que as decisões resultam dos seguintes elementos: problema, solução, participante e oportunidade; em que as oportunidades são vistas como latas de lixo, em que problemas e soluções são jogados pelos participantes.
Ainda na década de 20 o Brasil tinha grande parte de sua população vivendo no campo com uma economia fortemente baseada na agricultura. Mas, em cerca de 70 anos, o país tornou-se um dos mais importante e influente país na área industrial e viu sua população migrar em massa para as cidades.
Em todos esses anos, os governos deram mais ênfase na industrialização e não acompanharam da mesma forma as transformações na sociedade brasileira. O estado não desempenhava um papel regulador e participativo, mas criava um governo autoritário que também refletia de maneira autoritária nas políticas públicas brasileiras.
De caráter conservador, a política brasileira possui uma maneira peculiar para tratar as políticas sociais. O atendimento é centralizado, ou seja, atendendo a interesses específicos. Mas o país possui necessidades diferentes em cada região e em alguns casos elas acabam não sendo resolvidas da forma correta. São todas tratadas da mesma maneira e de forma massiva.
As políticas públicas deveriam ser criadas para distribuir de forma igualitária os recursos de caráter individual e social. Elas seriam a garantia da qualidade de vida, uma vida desenvolvida de maneira agradável e digna. Entretanto, para ter essa qualidade de vida é importante diversos fatores, como moradia, vestuário, educação, saúde, segurança e lazer.
A implementação de políticas públicas de qualidade no Brasil não costuma ser tão debatido pelos parlamentares do país. Além disso, não é feito um estudo aprofundado do assunto e como esses processos podem ser implantados de maneira mais dinâmica e eficiente. Muitas vezes as políticas públicas são confundidas como prestação de serviço do Poder Público aos cidadãos. Elas afetam determinados grupos da sociedade fazendo com que o as atitudes governamentais realizadas ou não atinjam pessoas de diversos grupos.
A partir da década de 30 o país modernizou-se e cresceu o número de direitos sociais. Em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho e anos mais tarde a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Ainda nessa década surgiram programas voltados aos pagamentos de aposentadoria e pensões em diversas profissões.
Com a imposição da ditadura pelo governo militar, muitos direitos civis, sociais e políticos foram retirados da população brasileira. Foram criados o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Na década de 70 foi criado o Ministério da Previdência que atuava na área de saúde e na área social.
Apesar de muitas medidas criadas e programas sociais voltados a população, essas decisões eram baseadas no assistencialismo, na corrupção e na ineficiência desses processos. Ou seja, havia muitos recursos para as políticas sociais, mas eles eram desviados e por isso passou-se a investir mais no sistema privado (educação e saúde privada, por exemplo).
A partir da Constituição de 1988 o Brasil passou a investir menos nas políticas públicas com o aumento da dependência internacional, o crescimento da desigualdade social, da pobreza e exclusão. As atuais políticas públicas brasileiras não conseguem reverter a desigualdade e investem, em sua maioria, em pequenos grupos sociais. Para a população pobre são criadas políticas de compensação no intuito de “distrair” para os verdadeiros problemas.
Com a abertura democrática brasileira, a descentralização teve apoio no intuito de aumentar os direitos sociais e a participação da sociedade no processo decisório. Nesse período a população necessitava de mais recursos e mostrava sinais de crescimento, mas era impedida pelos problemas econômicos em um país refém da inflação.
Apesar de ter sido implementada como uma forma de garantia dos direitos sociais dos brasileiros, a Constituição Federal de 1988, tem sido pouco eficaz quando se trata do bem estar da população. Facilitou o acesso a diversos serviços essenciais, mas não se preocuparam com a questão financeira. O objetivo era reduzir a desigualdade do Brasil.
Essa constituição é considerada redistributiva e instiga o Governo Federal a tornar as necessidades sociais e políticas públicas eficazes. No início da década de 90 o Governo Federal deixou de ser o principal provedor e passou a fiscalizar entidades que ofereciam determinados serviços para a sociedade. São diversos programas sociais de caráter municipal, estadual e federal e muitas vezes eles não são compatíveis entre si. Essa incompatibilidade acaba virando uma desvantagem para a população que necessita dessa ajuda.
Os gestores públicos ainda não conseguiram identificar as reais necessidades básicas dos cidadãos. Por mais que se ouça dos políticos promessas relacionadas a erradicação de muitas mazelas, como a pobreza, os programas e atitudes relacionadas a isso ainda são muito ineficientes. Muitas vezes as soluções são distribuídas entre a população, mas de forma desordenada.
O grande mistério, quando se observa a desigualdade no Brasil, é que o país possui uma das maiores economias do mundo. Tal situação pode ser explicada pelo atraso político da população brasileira que muitas vezes teve seu voto influenciado por militares, coronéis e políticos mal intencionados.
Nas últimas décadas o Brasil tem desempenhado novas atividades relacionadas ao caráter público. É necessária uma articulação e engajamento da sociedade para debater as propostas de políticas públicas em todo o país. O Estado desempenha um papel importante para o desenvolvimento social e estrutural do Brasil e é para ele que devem ser direcionadas as cobranças dos setores sociais do país.
Características das políticas públicas no Brasil
Uma das características relevantes nas políticas públicas brasileiras é a fragmentação. Muitas vezes essa fragmentação causa problemas pois há muitas divergências entre determinadas agências de controle quando o assunto é burocrático. Outra característica das políticas públicas brasileiras é a descontinuidade administrativa, em que as agências responsáveis pelas políticas públicas muitas vezes pensam nas políticas públicas de acordo com o interesse de seus gestores. Levando isso em consideração, a cada mudança de cargo, muda-se as políticas implantadas.
Outra característica está ligada principalmente as políticas sociais e dão preferência para o que é ofertado sem considerar as necessidades dos beneficiados. Essa situação resulta em problema ligados a credibilidade governamental, frustração dos cidadãos, desperdícios, etc. Um outro ponto relevante é a separação de política econômica e política social. Nesse caso a política social assume um papel secundário. Um outro aspecto importante é a focalização e a seletividade, baseados nos direitos universais.
Novos Arranjos para as Políticas Públicas
A partir da década de 90 foram realizadas tentativas para criar políticas públicas universais e estáveis. Surgiram leis como a Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Além disso, foram introduzidos benefícios sociais como o bolsa família e bolsa escola. Muitas dessas conquistas são resultados de organizações montadas pelos civis através de referendos, protestos e manifestos. Seria importante que as políticas públicas fossem integradas para um único propósito. No entanto, o que se vê atualmente é um processo fragmentado.
Apesar dessa situação, nos últimos tempos a administração das políticas públicas se tornaram mais democráticas, com o Estado desenvolvendo um papel mais próximo da sociedade. Começa a ser trabalhada uma política menos centralizada em que a população participa com mais empenho e importância nas políticas públicas brasileiras. Os políticos tentam agora desenvolver métodos para decisões compartilhadas.
Intersetorialidade
A intersetorialidade busca ultrapassar os resultados das políticas sociais e os problemas enfrentados pela população para ter acesso aos serviços públicos. Esse caso atribui a ideia de associação e igualdade dos direitos sociais dos cidadãos.
Descentralização
A descentralização é um dos processos que podem ser identificados após a Constituição Federal de 1988. Nos âmbitos governamentais (União, Estados e Municípios) possuem habilidades e recursos para instituir novas políticas públicas para a garantia dos direitos dos cidadãos. Ou seja, muitas vezes, os estados e municípios deliberam decisões através de necessidades próprias.
As políticas públicas podem ter vários objetivos e particularidades distintas. São muitos tipos de Políticas Públicas e iremos apresentar os principais modelos que auxiliam na compreensão dos conceitos relacionados as Políticas Públicas. A princípio, política pública são as atitudes tomadas ou não pelo governo e os impactos dessas ações e omissões.
Nesse tipo de política, busca-se compreender o que se quer fazer e o que deixou de ser feito. Além disso, podem explanar regras para ação e solução de possíveis problemas. Sendo assim, as políticas públicas podem ser divididas em três tipos:
Políticas Públicas Distributivas;
Políticas Públicas Redistributivas;
Políticas Públicas Regulatórias.
Políticas Públicas Distributivas
As políticas públicas distributivas possuem objetivos pontuais relacionados ao oferecimento de serviços do estado e equipamentos. Esse caso é financiado pela sociedade por meio de um orçamento público que beneficia grupos pequenos ou indivíduos de distintas camadas sociais. Esse tipo de política possui pouca oposição na sociedade, mas não é dada universalmente a todos.
É muito comum no Brasil o uso desse tipo de política e é bastante desenvolvido pelo Poder Legislativo. Primeiramente porque a camada mais pobre da população brasileira apresenta necessidades individuais e pertinentes devido a falta de recurso para todos e também porque elas representam a força daquele político que troca esse assistencialismo por votos.
Exemplos:
- A doação de cadeiras de rodas para deficientes físicos;
- Oferta serviço para pavimentação de ruas.
Entretanto, nem toda política distributiva pode ser considerada assistencialista, mas no Brasil é muitas vezes usado em época eleitoral. Casos de enchentes, por exemplo, são denominadas distributivas, mas não podem ser chamadas de assistencialista ou clientelistas.
Passaram a aplicar essas políticas de uma maneira mais igualitária após a criação das LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social, criada em 1988, que dá sustentação legal a assistência social. Após a criação das LOAS os programas de assistência social devem ser contínuos, os cidadãos devem ter acesso aos serviços, os cidadãos devem exigir os direitos reservados por lei e dá autonomia para os usuários.
Políticas Públicas Redistributivas
Esse tipo de política pública visa redistribuir a renda em forma de financiamento em serviços e equipamentos e na forma de recursos. Nesse caso, as camadas mais altas da sociedade são as responsáveis por financiar as pessoas rendas menores, os chamados beneficiários.
Exemplos:
- Isenção do IPTU para determinados cidadãos em detrimento ao aumento desse imposto para pessoas com maior poder aquisitivo;
- Programas habitacionais para população de baixa renda.
As políticas redistributivas atingem uma grande parte da população e são vistas como direitos sociais. Nesses casos as chances de discordância são maiores, pois a parte da população que é “penalizada”, costuma ser mais organizada politicamente.
Muitos governos realizam a redistribuição desses valores não só na forma financeira, mas também como serviços disponibilizados pelo governo como forma de reduzir a resistência dessas camadas da sociedade.
Políticas Públicas Regulatórias
As políticas regulatórias são criadas para avaliar alguns setores no intuito de criar normas ou implementar serviços e equipamentos. É essa política a responsável pela normatização das políticas distributivas e redistributivas, ou seja, está mais relacionada à legislação. Esses casos atingem pequenos grupos da sociedade é não exatamente um grande grupo social. Ou seja, elas incidem de maneira diferente em cada segmento social. Grande parte da sociedade não tem ciência do que são as políticas regulatórias e muitas vezes só reclamam quando são prejudicados de alguma forma.
Exemplo:
-Limitação das vendas de determinados produtos.
Política e Políticas Públicas
A política é exercida há muitos anos pelos homens e em poucos países no mundo existe uma desigualdade tão grande como a encontrada no Brasil. Onde as pessoas não conseguem exercer sua cidadania e são diariamente confrontadas com a falta de dinheiro, saúde, moradia e educação. A princípio grande parte do governo brasileiro surge com soluções gerais e emergenciais para sanar alguns desses problemas ao invés de implantar políticas públicas no intuito de reduzi-los.
As políticas públicas atualmente não são feitas para cuidar dos problemas e necessidades mais urgentes da população. São usadas como ações imediatas para conquistar o eleitor que não consegue opinar na divisão orçamentária. Os políticos não pensam em ações que mudam uma sociedade para sempre e optam pelo caminho mais fácil ao prometer, ainda em campanha, milhares de resoluções que muitas vezes nem são capazes de cumprir.
A forma despreocupada com que o país é administrado causa descrença na população, pois ela não vê o orçamento sendo investido no que realmente é necessário. Para a esfera pública, o que é realizado hoje para as áreas de saúde, educação e moradia são o necessário para o crescimento da população. Entretanto, muitos municípios sofrem diariamente com a falta de oferta das necessidades básicas garantidas pela Constituição Federal. A implantação de melhorias nas políticas públicas é essencial para aumentar a qualidade de vida dos brasileiros e índices como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).